

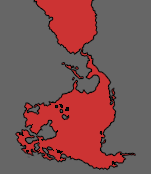
A diplomata marginal explica o “crime organizado” no Brasil
Simone Bastos de Menezes conta à uma jovem jornalista sobre a ascensão e queda do Código de Ética do Comando Vermelho

Por Adriana Veloso
Parte V de uma série, reportando do Rio de Janeiro
4 de abril 2003
O verão da lata não foi um mito urbano.
Realmente aconteceu no litoral do Rio de Janeiro e chegou até Ilha Grande, onde Marina Morena filha do presidiário William da Silva Lima, foi concebida.
Seu pai é um dos últimos homens que ainda enquadrado pela lei de Segurança Nacional, aquela que entrou em vigor no início da ditadura de 1964.
Ouvi falar do verão da Lata a primeira vez que estive em Ilha Grande, quando o presídio de segurança máxima em Dois Rios já era ruína e a cidade era fantasma. Certamente devo ter passado pela casa onde Marina Morena, companheira de geração, foi concebida.
 Simone Bastos |
O sistema carcerário no Brasil possui hoje 248 mil presos em 922 unidades e é a ponta do iceberg que reflete a marginalidade e exclusão social com a qual convivemos diariamente, seja distantemente pelos noticiários ou no cotidiano do morro. E o mercado de trabalho do tráfico de cocaína transforma as falanges em armas de guerra, ou no que a mídia passou a chamar de “crime organizado”.
Simone discorda, “o crime no morro não é organizado nada!, isso é uma invenção contada pela mídia, a mesma que criou o Escadinha, filho do Chileno” e também certamente o bem sucedido cormerciante Luiz Fernando da Costa.
Os cariocas, Simone e outros, vêem o verão da lata em 1986 como o divisor de águas. Ela diz que “foi quando o tráfico passou a ter visibilidade, porque antes todo mundo era maconheiro”. Para os que nunca ouviram falar do verão da lata, imaginem um barco transportando cannabis índica, não a cannabis sativa como é a conhecida aqui nas América, que abordado pela marinha brasileira atira ao mar seu conteúdo, latas cheias daquele baseado tão especial que gerou o mito. Todo mundo ficou louco. Era neguinho pegando lancha em Angra pra catar a maconha no mar.
No ano anterior, o verão de 1985, “as pessoas chegavam no morro e perguntavam, ‘tem preto’?” E ouviam como resposta; “não, só tem branco”, “foi quando a cocaína entrou no Rio de Janeiro” explica Simone. Naquele ano, a classe média deixou de encontrar maconha no asfalto e subiu o morro atrás de baseado. Chegando lá, só achava cocaína.
Estabelecia-se o comércio dessa droga que se alastrou pela América Latina e que transformou o crime em “organizado”. Os milhões de dólares movimentados pela produção, distribuição e comercialização da cocaína encontraram nos morros cariocas seu estágio final. Justamente alí numa população carente de esperança, vítima de uma exclusão social que tentava se organizar de forma solidária e horizontal.
A história do Comando Vermelho
 Quatrocentos contra Um: A história do Comando Vermelho |
Nas prisões brasileiras não havia lei, matava-se por um jeans, o carcereiros vendiam o corpo dos recém chegados e não havia uma diferenciação entre o tipo de crime praticado. Na verdade, somente em 1984 a lei de execução penal entrou em vigor, o que significa que somente a partir de então as pessoas que cometiam crimes recebiam uma pena antes de irem para a prisão. Antes de 1984 o preso era trancado e a chave jogada fora. Mas “o sistema penitenciário no Brasil continua sendo um produtor de marginalidade”, ressalta Simone.
De acordo com ela, a divisão de alas por crimes não é executada como deveria, o que faz com que o homem que cometeu um furto – roubou sem arma – conviva com assassinos, com todo tipo de gente que cometeu diversos delitos, ou que inclusive entre em contato com o mercado de trabalho da cocaína.
O Comando Vermelho é o resulado de um código de ética estabelecido dentro do sistema penitenciário a partir de idéias socialistas trazidas pelos presos políticos da ditadura militar. “Passou a haver um comprometimento solidário entre os homens”, diz Simone. Os rapazes recém chegados já não mais podiam ser vendidos como tindás– serviçais em sua maioria estuprados – já não havia mais tantas contendas – brigas – não se matava por uma calça jeans, e o quilingüe – ladrão que rouba ladrão – também não era aceito. Esse código de ética surgiu a partir de um “acesso ao conhecimento que veio da classe média guerrilheira. Mas eles nunca se misturaram, nunca fizeram parte”, conta.
Passaram então a haver “pressões para que os filhos da elite fossem separados dos presos comuns e tornarem-se presos políticos, o que aconteceu em meados da década de 70”, conta Simone.
Durante esses quatro anos em que conviveram principalmente em Ilha Grande, as falanges – nada mais que “coletivos” que se reuniam para praticar algum ato ilícito, em sua maioria assaltos a bancos – criaram seu código de ética e o levaram para suas comunidades. “Quando havia um roubo, o sujeito voltava para sua comunidade e fazia uma grande feijoada e todos bebiam cachaça e montavam o multirão para construir suas casas”, conta. Isso acontecia numa época em que o tráfico de drogas era muito diferente de como o conhecemos hoje.
O máximo que se vendia nos morros era maconha, “mas nehuma criança podia entrar em boca de fumo, nos morros só se podia fumar na rua após escurecer e ninguém podia fumar na frente de pessoas mais velhas. Além do que, o pessoal descia pro asfalto para vender a droga, a classe média não subia o morro”, diz Simone. Essa era a época de um crime horizontal, onde o “ladrão retribuia à comunidade que o acolhia”, conta.
Após essa divisão entre os presos comuns e os presos políticos sobraram 90 homens que haviam convivido nos tempos em que Ilha Grande era o maior presídio de Segurança Máxima do País. Esses 90 homens, trocavam livros, questionavam seus direitos de cidadão e começaram a influenciar todo o sistema penitenciário do país. Comunicavam-se, por meio do congo, um sistema de códigos e números que só era entendido pelos presos que sabiam sobre sua existência. Começaram com números, evoluíram para sinais, palavras. Não era a época de grampos e celulares, os bilhetes eram transportados, mas não podiam ser compreendidos por quem não pertencia a determinada falange.
Por isso, aqueles 90 homens foram então isolados do resto dos presos comuns, que chegavam a partir da época da anistia, quando os exilados começaram a retornar ao país e o movimento dos desaparecidos se desesperava com as faltas. O conhecimento e questionamento de suas condições fez com que eles se tornassem presos políticos quando a ditadura estava para acabar.
Essa solidariedade proveniente do pensamento socialista foi passada adiante nas cadeias, por meio dos congos e do código de ética. O Chileno, pai de Escadinha – famoso traficante de finais da década de 70 – também foi responsável pela disseminação do pensamento socialista no Morro do Juramento. O Chileno jamais foi criminoso, era fugitivo da ditadura de Pinochet e casado com uma mulata.
A entrada da cocaína: “purgatório da beleza e do mal”
 Simone Bastos |
Simone Bastos de Menezes explica claramente a divisão dos tempos por meio de uma metáfora entre a maconha, o pensamento socialista e a horizontalidade da marginalidade, solidária à sua comunidade. Também sua substituição, a partir do verão da lata em1986, “quando o tráfico passou a ser visível”, diz.
Para Simone o Morro é apenas um microcosmo de um sistema capitalista. Há um mercado de trabalho muito bem delineado. O garoto começa como fogueteiro – soltando pipas ou foguetes para avisar sobre a aproximação da polícia – passa a vaporeiro – distribuidor de drogas – torna-se soldado para defender a organização até transformar-se em Gerente de Boca – nome que ficou da época em que o o tráfico do morro era basicamente de fumo. As mulheres trabalham como mulas ou pontes, ou seja fazem o transporte da droga. Dessa forma a marginalização social leva rapidamente à marginalização criminosa. “A cocaína insere-se no morro de forma capitalista, com seu mercado de trabalho específico”, afirma.
Nos últimos quinze anos a cocaína alastrou-se pelo país, o chamado poder paralelo passou a fechar o comércio até o presente “imidiático”: Rosinha “Garotinho” Matheus como Governadora do Estado do Rio de Janeiro e Fernandinho Beira Mar como Pop Star disputado pelas câmeras de televisão.
De 1986, de Escadinha – filho do Chileno – ate a atualidade de Fernandinho Beira Mar, o tráfico de drogas tomou novas proporções. A criminalidade no Brasil foi dominada por esse lucrativo mercado de trabalho da cocaína que apresenta-se para as populações mais carentes como única forma de sobrevivência. No morro, a lei que comanda é a do tráfico de drogas, não mais aquela solidária, como foi o crime das décadas em que os assaltantes faziam feijoada para sua comunidade, mas sim um crime violento, tenso, imediatista e consumista.
A partir de 1987, ano posterior ao verão da lata, a maconha não voltou a faltar. Os comerciantes perceberam que a cocaína já havia feito seus clientes, e que as duas drogas poderiam coexistir.
“Até chegar ao ponto em que a própria juventude do morro passou a ser um usuário”, destaca Simone que lembra de uma cena que presenciou no Morro da Mangueira certa vez; “um rapaz, um gerente de boca, muito novo, por volta de 16 anos, chegou com uma arma de cada lado da cintura e o vi comprar dez pares de tênis nike branco – todos iguais – por tipo uns cem reais de hoje de uma mulher que repassava coisas roubadas do asfalto. Eram mil reais em pares de tênis iguais! o rapaz não teve a preocupação de levar dinheiro para a sua casa, ou ajudar sua comunidade, ele queria ser igual ao playboy de Ipanema”, diz. Simone identifica a atual condição do tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro como uma situação vertical, muito diferente de quando surgiu, o que a mídia veio a chamar de: o Comando Vermelho.
Perpectivas de uma juventude perdida no pó
Simone acha que já é hora da questão das drogas sair das páginas políciais que tratam do tráfico, mas que a mídia deve exercer seu papel de agente social e colocar em debate o assunto também nas páginas de saúde, educação, planejamento, etc, abordando a questão das drogas por outros pontos de vista, como o jurídico e o social.
“Da geração de William, daqueles 90 homens hoje só sobraram quatro”, conta Simone. Seu marido nasceu na década de 40 e possui três filhos. É um dos últimos encarcerados pela Lei de Segurança Nacional, aquela lá da época da ditadura.
Se essa geração, que assaltava banco para fazer multirão em suas comunidades, se extinguiu com o passar dos anos pela violência social, imagine os que praticam o crime atualemtne no Rio de Janeiro… Jogar coquetel molotov no Meridien, ou colocar fogo em ônibus, é um ato de violência talvez comparável a miséria cultural com que esses jovens foram criados. As opções do jovem que nasce no morro resume-se a uma só, quem escapa é pura exceção cinematográfica.
Hoje, Simone, a diplomata marginal, como mesmo ela brinca, segue com seu trabalho social na ONG Programa Integrado de Marginalidade (PIM) onde é reponsável pela questão do cárcere no Brasil. Ela cria projetos de saúde para presídiários, principalmente em questões relacionadas com a transmissão do HIV e com a redução de danos.
Seu perfil encaixa-se naquele de grande parte dos brasileiros. Simone tem esperança “de que o discurso permissivo da esquerda torne-se compromisso social com a mudança”. Que o governo possa criar estruturas de base de combate contra a marginalidade. Isso aplica-se à existente política de drogas, responsával pelo mercado de trabalho da cocaína nas favelas cariocas, à exclusão social do morador dos becos que não consegue um emprego no asfalto, ao acesso à cultura; “porque a gente não quer só comida, a gente quer comida diversão e arte”, como diriam os Titãs em sua boa época, por volta do ano do verão da lata, quando esta que lhes escreve era apenas uma criança.

Simone e William
Foto D.R. 2002 Jornal da Tarde
Simone e William são o casal sobrevivente de uma geração que não fez revolução. E eles continuam na luta contra a exclusão social. Quem sabe, talvez por jamais terem desistido, o sonho de Simone esteja próximo de ser real.
“Acho que meu sonho de viver com William só vai se realizar quando estivermos mesmo velhinhos”, suspira essa autêntica brasileira que não perdeu a esperança.
Uma Política de Drogas a Partir da Base
Leia a Parte II desta série:
Usuários de Drogas e Adictos Estão se Organizando no Brasil
Leia a Parte III desta série:
130 oponentes à guerra das drogas encontram-se em São Paulo
Leia a Parte IV desta série:
Secretária executiva do Ministério da Saúde critica a oficial política de drogas
Leia a Parte VI desta série:
O desevolvimento das ações de redução de danos no Brasil
Leia a Parte VII desta série:
Presidente Lula, olhe para a experiência de seus conterrâneos!
Leia a Parte VIII desta série:
O marketing do mito da guerra das drogas
Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
For more Narco News, click here.




